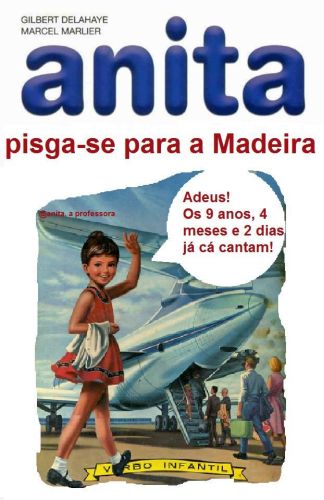No Maputo, onde vivi as passagens de ano da minha infância, já são 00:20 de 01.01.2019. Bom ano, Moçambique!
.
31.12.18
Anos velhos (1)
Na Tasmânia, já são 3:52 am de 01.01.2019 e não me importava nada de lá estar, como estive há quase dois anos.
.
Há meio século, «Vemos, Ouvimos e Lemos»
É um ritual: em 31 de Dezembro regresso à passagem do ano de 1968 para 1969. Há sempre quem não saiba que a Cantata da Paz, tão divulgada por Francisco Fanhais depois do 25 de Abril, foi por ele estreada nessa noite, numa Vigília contra a guerra colonial, com letra propositadamente escrita para o efeito por Sophia de Mello Breyner.
Em 31 de Dezembro de 1968, cerca de cento e cinquenta católicos entraram na igreja de S. Domingos, em Lisboa, e nela permaneceram toda a noite, naquela que terá sido a primeira afirmação colectiva pública de católicos contra a guerra colonial. O papa Paulo VI decretara que o primeiro dia de cada ano civil passasse a ser comemorado pela Igreja como dia mundial pela paz e, alguns dias depois, os bispos portugueses tinham seguido o apelo do papa em nota pastoral colectiva.
Assim sendo, nada melhor do que tirar partido de uma oportunidade única: depois da missa presidida pelo cardeal Cerejeira, quatro delegados do grupo de participantes comunicaram-lhe que ficariam na igreja, explicando-lhe, resumidamente, o que pretendiam com a vigília:
«1º – Tomar consciência de que a comunidade cristã portuguesa não pode celebrar um “dia da paz” desconhecendo, camuflando ou silenciando a guerra em que estamos envolvidos nos territórios de África.
2º – Exprimir a nossa angústia e preocupação de cristãos frente a um tabu que se criou na sociedade portuguesa, que inibe as pessoas de se pronunciarem livremente sobre a guerra nos territórios de África.
3º – Assumir publicamente, como cristãos, um compromisso de procura efectiva da Paz frente à guerra de África.»
Entregaram-lhe também um longo comunicado [que está online] que tinha sido distribuído aos participantes, no qual, entre muitos outros aspectos, era sublinhado o facto de a nota pastoral dos bispos portugueses, acima referida, tomar expressamente partido pelas posições do governo que estavam na origem da própria guerra, ao falar de «povos ultramarinos que integram a Nação Portuguesa».
Apesar de algumas objecções, o cardeal não se opôs a que permanecessem na igreja, ressalvando «a necessidade de uma atitude de aceitação da pluralidade de posições».
Pluralidade não houve nenhuma e, até às 5:30, foram discutidos todos os temas previstos e conhecidos: vários testemunhos, orais ou escritos, sobre situações de guerra na Guiné, Angola e Moçambique.
Hoje, tudo isto parece trivial, mas estava então bem longe de o ser. Aliás, seguiu-se uma guerra de comunicados entre Cerejeira e os participantes na vigília. Com data de 8 de Janeiro, uma nota do Patriarcado denunciou «o carácter tendencioso da reunião», terminando com um parágrafo suficientemente esclarecedor para dispensar comentários: «Manifestações como esta, que acabam por causar grave prejuízo à causa da Igreja e da verdadeira Paz, pelo clima de confusão, indisciplina e revolta que alimentam, são condenáveis; e é de lamentar que apareçam comprometidos com elas alguns membros do clero que, por vocação e missão, deveriam ser não os contestadores da palavra dos seus Bispos, mas os seus leais transmissores».
A PIDE esteve presente (há disso notícia em processo na Torre do Tombo), mas não houve qualquer intervenção policial. Alguns jornais (Capital e Diário Popular) noticiaram o evento, mas sem se referirem ao tema da guerra colonial – terão provavelmente tentado sem que a censura deixasse passar. A imprensa estrangeira, nomeadamente algumas revistas e jornais franceses, deram grande relevo ao acontecimento. E foi forte a repercussão nos meios católicos.
P.S. – Quatro anos mais tarde realizou-se uma outra vigília pela paz, na Capela do Rato, com consequências bem mais gravosas, já que envolveu uma greve de fome, prisões e despedimentos da função pública.
.
30.12.18
Dica (840)
A New Political Narrative For Europe (Massimiliano Santini)
«At the May 2019 elections for renewing the European Parliament, parties dreaming of a “nationalist international” movement across Europe have a realistic chance of electing a majority of MEPs that will represent over 500 million European citizens. What form and shape could a “European story,” alternative to that promoted by the populist movements, take? Europe has a common history and a common destiny. We need more songs written about it, and more big bright blue flags flying over our homes. But we also need a new, rigorous, and pragmatic narrative that uses metaphors and myths to make people feel at home again in a globalized Europe. Reacting to the growth of populist movements, political philosopher Michael Sandal recently wondered whether “Democracy is in Peril.” However, rather than worrying about the fundamentals of the liberal order, the solution may be in elaborating and putting forward a new narrative. It’s the narrative, stupid!»
.
Uma moral de pós-guerra
«Manhã de quinta-feira. Na Antena 1, sucedem-se as vozes comentando o veto presidencial ao decreto do Governo que pretende impor às/aos educadoras/es e professoras/es dos ensinos básico e secundário que esqueçam sete anos das suas vidas profissionais para efeitos de progressão na carreira e com as óbvias consequências na sua reforma. Um antigo operário têxtil da Beira Interior emociona-se ao falar dos seus muitos anos de desemprego, de “quanto sofremos” nos anos da troika “para lutarmos por este país, de quanto nos sacrificámos, nós e os nossos filhos, para levarmos este país para diante”, indignado com os “privilégios” que, em sua opinião, os professores querem obter: “E a nós, que nunca fizemos uma greve, que trabalhámos até deixarmos de poder, quem nos devolve o emprego que perdemos, os salários que nos cortaram?” Ninguém. Nem a ele, nem às centenas de milhares que nos anos da devastação social foram despojados de emprego, salários e, em grande medida, dignidade. Nem aos professores, nem ao conjunto dos funcionários públicos, já agora: em 2014, tinham perdido 24% do poder de compra que tinham em 2010; e nenhum governo dos que temos tido lhes vai devolver os milhares de milhões de euros que, sob a forma de salários, lhes foram retirados. Só nos quatro anos de Governo Passos a redução do número de funcionários públicos (todo o tipo de contratos, incluindo os precários) foi de quase 80 mil, 11% do total. Entre eles, 29 mil professores (17,4% do total). É totalmente excecional que, na história contemporânea, em período tão curto de tempo, reduções nos efetivos do Estado se façam a este ritmo.
Creio que muitos de nós ainda não se deram conta do que significaram os anos da troika. Habituados a ouvir falar de economia através de uma desfocada lente macro, traduzimos o discurso da recuperação económica numa genérica sensação de alívio, como se pudéssemos, por fim, retomar uma vida, já de si precária, subitamente interrompida há dez anos, como se tivéssemos passado por uma guerra e agora nos devêssemos concentrar na reconstrução. Essa, aliás, foi uma das imagens que Passos Coelho escolheu, no Natal de 2014, para descrever o que então vivíamos, convidando-nos a aprender com o exemplo dos combatentes da Guerra Colonial, “servindo a pátria de forma absoluta”! É de uma moral assim que surgem estes discursos contra os direitos dos professores, uma moral de pós-guerra: todos perdemos, ninguém pode recuperar o que perdeu; se o fizesse, trairia a comunidade dos magoados, como se esta se tivesse constituído em torno de um pacto de sacrifício que todos assumimos! Ora, nem é verdade que todos tenham perdido (a concentração de rendimentos nos mais ricos aí está para o comprovar), muito menos que todos tenhamos assinado um pacto de sacrifício económico e social que nenhum governo, nenhuma troika, nenhum patrão negociou connosco, estabelecendo responsabilidades, fixando partilha de sacrifícios, preservando os que, de tanto se terem sacrificado antes, não deveriam contribuir para este novo esforço.
Não me surpreende ver esta moral reproduzida por quem incorporou hierarquias sociais e naturalizou desigualdades (“o mundo é assim, não vai mudar”) e, por isso, desconfia sempre de quem se organiza para as denunciar. Nesta moral, é quem não faz greve e aceita sacrifícios que deve ser premiado e não “os criminosos” que as fazem, como lhe saiu à ministra da Saúde. O que me indigna é que também neste Governo haja quem “criminalize” a essência da democracia que é o direito a resistir à injustiça e a reivindicar os seus direitos, quem desvirtue completamente o exercício do direito à greve e sacuda para cima do grevista responsabilidades que são suas enquanto poder que não negoceia, recuperando assim o pior de 200 anos de intimidação do trabalhador que não se cala perante a injustiça. “O sistema económico atual” — o velho capitalismo tomado pela “meritocracia neoliberal” — “está a trazer à tona o pior de nós”, escreveu há anos o psicólogo social Paul Verhaeghe, autor de What About Me?The Struggle for Identity in A Market-Based Society (2014). Num mundo em que os trabalhadores são “infantilizados” (perdendo autonomia, responsabilizados pelos fracassos), “a solidariedade torna-se um luxo demasiado caro”. “Para os que acreditam na fábula de que dispomos de uma irrestrita possibilidade de escolha” neste padrão de relações sociais, “a liberdade que julgamos existir no Ocidente é a maior inverdade dos nossos dias e da nossa era”.»
.
29.12.18
Uma entrevista de leitura obrigatória
Relatórios da administração colonial que denunciam "o bafio da escravatura" e uma diplomacia que tenta negar as acusações internacionais e adiar ao máximo a mudança: Portugal e a Questão do Trabalho Forçado, de José Pedro Monteiro, é um testemunho poderoso sobre o ocaso do Império português.
.
Marcelo e os professores
Só eu é que pensei neste clássico ao ler o veto de Marcelo ao diploma do governo sobre os professores?
.«Coletes encarnados» para Macron
Macron não é De Gaulle, 2019 não é 1968. Mas os «coletes encarnados» (cá fariam um belo desfile de campinos…) talvez pensem que sim e marcaram uma marcha de apoio ao presidente. A ver vamos.
.
Prendam o Trump! E não faltam motivos para isso
José Pacheco Pereira no Público:
“Lock her up! Lock her up!”
(Grito de guerra dos comícios de Trump contra Hillary Clinton)
Só há uma coisa importante sobre a qual se pode escrever hoje em dia: o Presidente dos EUA, Donald Trump. Dele vai depender quase tudo o que se passa no mundo em 2019: a crise da Europa, a paz do mundo, a situação no Médio Oriente, a corrida aos armamentos, a contínua ascensão de Putin, a economia global, as instituições como a ONU, a Unesco, a UNICEF, as agências humanitárias internacionais, a nova guerra cultural contra as mulheres e a comunidade LGBT, a independência e a separação dos poderes nos EUA, a politização da justiça e das forças armadas, a democracia em muitos países, a democracia nos EUA, de um modo geral o grau de violência que o mundo vai ter sob todas as formas.
Muitos destes conflitos não foi Trump que os criou, mas em todos Trump acrescentou factores de agravamento e, nalguns casos, trouxe as franjas mais radicais para o seu lado, para o centro dos conflitos de uma forma que era inimaginável há poucos anos. Os supremacistas brancos, os grupos racistas anti-imigrantes, as redes e os locais de conspiração e calúnia (como o InfoWars e o Breitbart) junto dos quais a comunicação social mais tablóide brilha de sensatez e limpeza, os “operadores políticos” especialistas em operações de desinformação (como Roger Stone), os agentes estrangeiros que, ao serviço dos seus governos, oferecem a desinteressada ajuda a Trump para ganhar eleições e atacar os seus adversários com hackers e fake news e mesmo os assassinos sauditas legitimados pelos cheques da compra de armamento.
A tudo isto soma-se essa coorte de mentirosos profissionais, manobradores de todos os dinheiros sujos, como o director de campanha de Trump, o advogado e “facilitador” de Trump, vários assessores e homens de confiança da campanha, e o responsável pela Segurança Nacional, todos a caminho da cadeia. Se a isso somarmos os mentirosos comprovados, os esquecidos de quantas vezes falaram com os russos, teríamos que acrescentar a família Trump, os filhos e o genro. Resumindo e concluindo: é uma pena os portugueses não conhecerem gente como Stephen Miller, um dos principais conselheiros de Trump, solitário porque os adultos de serviço foram saindo um a um, porque, em meia dúzia de minutos, percebiam o que eu estou a dizer.
Como é possível escrever tudo o que escrevi sem qualquer risco de contestação, sem qualquer possibilidade de alguém me acusar de calúnia? Pura e simplesmente porque é tudo pura verdade e não há sequer muita controvérsia sobre estas acusações e descrições. Como é que fazendo tudo isto o homem pode continuar a ser Presidente dos EUA? Como é que Trump é capaz de ter feito tanta coisa negativa, qual super-homem do Mal? A resposta é simples: é Presidente dos EUA, o homem mais poderoso do planeta, e não responde a nada a não ser ao seu próprio narcisismo e aos mecanismos do narcisismo, sondagens, audiências, aos bajuladores e sicofantas, e está cada vez mais preso no casulo do seu Ego doentio.
Para se perceber Trump é obrigatório ler os seus tweets, com as suas obsessões à flor da pele, os seus erros de ortografia, as suas frases incompreensíveis, as suas calúnias e insultos, a chantagem directa a pessoas, instituições e países, o estilo autocrata e vaidoso – tudo o que ele faz é o melhor do mundo –, a ignorância, a incompetência e a profunda e explicita violência do homem. Em Portugal podia ser ditador de um pequeno café ou dirigente desportivo, para já. Mas no Brasil já poderia ser Presidente. O “para já” não me conforta.
Eu passei o ano entre a explicação racional, a explicação do que ele faz e do seu sucesso e insucesso, e a tentação do irracional, Trump não é bom da cabeça. Cada vez mais penso que são as duas coisas. O que é mais grave é que toda a gente nos EUA que o conhece e com ele contacta sabe que é assim. Suspeito aliás que mesmo na sua base mais fiel, há muita gente que sabe que ele não regula bem.
Claro que ele representa muitos interesses económicos, financeiros, americanos e internacionais, como nos lembram os marxistas, mas não é só isso. Há um factor cultural que está para além disso, que é americano e mundial e que homens como Steve Bannon tentam transformar numa nova internacional, Trump mostrou a força da negatividade, um dos mecanismos base do populismo moderno. Conseguiu uma coisa que até agora lhe tem garantido imunidade, mesmo para os actos mais graves quotidianos: conseguiu ser o azorrague dos inimigos de muita gente, a emanação da vontade de vingança e ódio, o cavaleiro andante de muito ressentimento. E nos dias de hoje isso é muito poderoso. Trump foi a todas as cloacas da vida que se manifestam nas redes sociais e fê-las correr a céu aberto e inundar mesmo as terras que eram sadias e limpas. Ele é o primeiro político típico do século XXI.
Já o escrevi e repito-o: Trump não vai abandonar o poder a bem mesmo que perca as eleições. Ele encontrará uma qualquer teoria da conspiração porque é incapaz de admitir sequer que ele, o “génio estável”, possa perder uma eleição. E nas chamas tribais que ele incendeia todos os dias isso é um risco de guerra civil. Não como as do passado, mas as modernas, as que vão das igrejas evangélicas aos hackers de Moscovo, passando pelas redes sociais e pelo ataque à liberdade de imprensa e por juízes políticos. Não sei como vai ser, mas não vai ser bom e se a gente não usa todas as armas da democracia vai perder.»
.
28.12.18
O medo e o Estado de vigilância
«Durante mais de uma semana, escutámos as palavras sábias da expertise que nos anunciava uma catástrofe amarela para sexta-feira e, dominando a matemática dos riscos, instalou-nos no real da urgência e do perigo. (…) O Presidente da República “engatou” um camionista e apelou à indulgência dessa classe tão sexy on the road, mas tão empata quando pára. De todos os lados chegou a exigência securitária. (…)
No final, chegámos à conclusão de que não foi respeitada uma presunção tão importante como a presunção de inocência: a presunção de inocuidade. A ameaça amarela era inócua, mas houve muita gente a servir-se dela para alimentar uma cosmopolítica do medo. Já todos deveríamos ter percebido que o diagnóstico de perigosidade é um prognóstico que privilegia sempre o cenário mais catastrófico; e que as verdadeiras catástrofes ocorrem em situações que não foram previstas. Felizmente, as catástrofes ficam quase sempre aquém das previsões. Mas gostam de se exceder quando estamos distraídos e nada tinha sido previsto.»
António Guerreiro
.
2019: Ave, Europa, morituri te salutant
«Consta que era assim que os gladiadores saudavam os Césares, em Roma, na arena do Coliseu, inspirados num episódio de batalha naval encenada pelo bizarro imperador Cláudio: “Ave, César, os que vão morrer te saúdam.”
O ano que vem vai ser tempo de morte para muita gente. Nenhum de nós sabe quando chega a nossa vez. Mas sabemos cada vez melhor que para muitos a Senhora da Foice passa e colhe muito antes do momento esperado ou devido. Por doença precoce quantas vezes evitável, catástrofe natural ou provocada por erro humano, ou conflito mortal para quem fica e para quem foge. Das invasões, das bombas, dos snipers ou da fome e da miséria, as pragas de mão humana que continuam a assolar o mundo de forma tão sinistra quanto desigual. A esperança de vida à nascença e a sua indecente variação mundial é prova evidente do elemento sorte que preside à nossa chegada ao círculo dos vivos. Poucas variáveis predizem melhor as nossas futuras oportunidades do que o sítio onde nascemos.
Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, reunida em Paris, com os votos favoráveis de larga maioria dos então membros (48 em 58), nenhum voto contra e a abstenção de oito Estados (no essencial, os do “bloco comunista”, que entendiam que o documento não ia suficientemente longe), havendo ainda dois que não votaram (Iémen e Honduras).
Comovente na sua generosidade, radical na sua ambição, desafiante na sua completude, visionário no seu alcance, o texto da Declaração Universal promete, entre outras coisas, refúgio aos perseguidos e um mínimo decente de vida a todas as pessoas, como direitos que pertencem a todos os seres humanos apenas pelo facto de o serem.
“Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países”, reza o Art. 14.º 1, sobre refugiados. De forma realmente universal, o Art. 25.º 1 proclama que “Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade”.
27.12.18
Roma: regresso dos calendários Mussolini
À venda, agora com mais sucesso.
.
Espanha: uma Geringonça de direita com uma perna bem extrema
«Vox ha comunicado oficialmente a última hora de esta noche que respalda el acuerdo sobre la Mesa del Parlamento al que han llegado esta tarde PP y Ciudadanos y en el que el partido de extrema derecha tiene asegurada su presencia con voz y voto.
Los votos de de la extrema derecha son necesarios para que el acuerdo entre populares y Ciudadanos pueda ejecutarse y no pierde ocasión para recordárselo a sus integrantes. Este miércoles, poco después de que los secretarios generales del PP y Vox.»
.
Baixa natalidade? Provavelmente uma boa notícia
«1. Portugal tem, hoje, uma das mais baixas taxas de natalidade da Europa. Tem, também, um saldo natural negativo: em 2017, nasceram em Portugal menos 23 mil pessoas do que as que morreram. Boas notícias, em princípio.
2. O planeta dificilmente sobreviverá com o crescimento populacional atual. A pressão colocada sobre os ecossistemas e os recursos naturais põe em causa a sustentabilidade ambiental da espécie humana. Neste quadro, a emergência de dinâmicas de redução populacional só pode ser uma boa notícia, pois essa redução resulta de escolhas livres e não de intervenções repressivas ou de guerras e outros reguladores malthusianos. Uma observação simples: a população total do mundo não diminuirá se não diminuir a população de cada país. Ou seja, não podemos proclamar em abstrato as virtualidades da redução populacional global e reagir assustados à diminuição, em concreto, da população do nosso país (uma variante da célebre atitude NIMBY).
3. A acompanhar as boas notícias, dois motivos reais de preocupação. Em primeiro lugar, a transição demográfica que vivemos tem custos. Em segundo lugar, as dinâmicas mundiais da população são muito assimétricas: nuns países a população diminui, noutros estabiliza, noutros ainda continua a crescer a níveis elevados (apesar da redução da natalidade).
4. Em que consiste o problema da transição? No passado, nasciam muitas pessoas que, chegadas à idade ativa, sustentavam as muitas que então se reformavam. Hoje, nascem menos pessoas que, quando em idade ativa, poderão ser menos dos que as necessárias para sustentar as muitas nascidas no passado e que entretanto se reformaram. Este problema é, porém, temporário. Assim como não havia problemas de sustentabilidade quando eram muitas as pessoas ativas e as que se reformavam, também não haverá problemas quando forem poucas tanto as que estão em idade ativa como as inativas. Sobretudo se, entretanto, houver os ajustamentos necessários para que o prolongamento da esperança média de vida se traduza em ciclos mais longos de juventude, atividade e reforma, e não apenas em mais tempo de velhice.
5. Os problemas de transição precisam de soluções singulares. Aumentar de novo a natalidade, supondo que tal fosse possível, seria uma má solução. Por três razões: porque contribuiria para comprometer a sustentabilidade ambiental global, porque acrescentaria aos custos com os inativos idosos os custos com o aumento do número de inativos jovens, e porque, se fosse bem-sucedida, só teria consequências quando a transição estivesse resolvida, ou seja, quando fosse desnecessária. Mesmo que, por absurdo, todas as mulheres portuguesas em idade fértil tivessem amanhã um filho, essas crianças ainda teriam que crescer, em média, mais de 20 anos antes de se tornarem contribuintes ativos. Sem contar com o facto de ser pouco provável que, daqui a 20 anos, com os aumentos de produtividade previsíveis, haja capacidade para criar os empregos necessários para integrar uma nova geração de baby boomers.
6. Uma política pró natalista dificilmente encontra justificação racional. E, na ausência de sanções ilegítimas, é pouco provável que encontrasse apoio entre a maioria da população. A redução da natalidade é uma tendência global, planetária, de longa duração, uma tendência estrutural pesada. Dir-se-á, no entanto, que a baixa natalidade em Portugal não resulta só de escolhas mas também de obstáculos que as famílias enfrentam. É verdade. Há famílias que não têm filhos ou que têm menos filhos do que quereriam porque não têm condições socioeconómicas que lhes permitam decidir, responsavelmente, de acordo com as suas preferências. Baixos salários, precariedade laboral, longos horários de trabalho e de deslocação casa-emprego, trabalho fora de horas, custos crescentes com o alojamento, carências na oferta pública de creches, horários de funcionamento das escolas, preço dos transportes são obstáculos à concretização de escolhas livres no plano da natalidade. E são, acima de tudo, obstáculos a uma parentalidade e a uma vida dignas, justificando-se a sua remoção independentemente dos efeitos que tenham sobre a natalidade.
7. A desigualdade é, também, desigualdade nas possibilidades de escolhas concretizáveis em múltiplos domínios, inclusive no da demografia. Um estado de direito, democrático e social deve abster-se de ter uma política de natalidade, que o passado demonstra só ter eficácia à custa da liberdade. Não pode, porém, deixar de ter políticas de igualdade e justiça social, incluindo no apoio à parentalidade, promovendo a remoção dos obstáculos à livre escolha das famílias no plano da natalidade e a promoção de condições de vida dignas das famílias e do cuidado dos filhos. Porém, livre escolha requer tanto a possibilidade de ter dois ou mais filhos como a de não ter filhos, ou ter apenas um ou dois, bem como de os ter quando considerado adequado. Promover a natalidade desejada pelos pais requer, pois, decisões ponderadas e consequentes, só generalizáveis se houver políticas públicas no domínio do planeamento familiar. Tudo somado, no fim, poderá ocorrer um ligeiro aumento da fecundidade, como aconteceu na Suécia - neste caso, felizmente, ainda abaixo do valor de 2,1 filhos por mulher, o mínimo necessário para que seja garantida a substituição das gerações.
8. Entretanto, há soluções para os problemas da transição demográfica. A principal virá do aproveitamento inteligente das assimetrias demográficas globais. Se a população ainda aumenta em termos globais, a solução está, obviamente, em mais mobilidade das zonas ainda em expansão demográfica para as zonas, mais desenvolvidas, já em retração. As migrações poderão ser o grande regulador da transição, em dois planos. Por um lado, porque permitem diminuir os desequilíbrios entre ativos e inativos tanto nos países de destino como nos de origem. Por outro, porque permitem contrariar a diminuição da população nas áreas de destino, reduzindo assim a amplitude de desequilíbrios de poder entre regiões com dinâmicas populacionais muito diferentes. Países como os EUA, o Canadá ou a Austrália demonstram a possibilidade de construir não apenas países de imigração mas verdadeiras nações de imigrantes, desde que sejam mobilizadas políticas públicas consistentes para atingir esse objetivo. Assim como a construção da União Europeia demonstra a possibilidade de se caminhar, progressivamente, no sentido da livre circulação das pessoas no plano internacional, um fim desejável em si mesmo, ainda que não para amanhã.»
.
26.12.18
26.12.1930 - Jean Ferrat
O grande Jean Ferrat, representante típico de gerações de intérpretes politicamente engagés, para sempre ligado a «Nuit et Brouillard» e a tantos outros títulos, o eterno compagnon de route do Partido Comunista Francês, que não hesitou em denunciar a invasão de Praga em 1968.
C'est un nom terrible Camarade / C'est un nom terrible à dire / Quand le temps d'une mascarade / Il ne fait plus que fremir / Que venez-vous faire Camarade / Que venez-vous faire ici / Ce fut à cinq heures dans Prague / Que le mois d'août s'obscurcit.
Mas não só:
Mas não só:
.
Tédio
«Em Abril de 1906, Alexei Peshkov visitou a América. Anos antes, adoptara o pseudónimo "Gorki", que significa "amargo", por entender que era sua missão denunciar sem contemplações a terrível verdade da Rússia dos czares. É como repórter socialista que Máximo Gorki viaja até aos Estados Unidos, num tour de propaganda e angariação de fundos. Tudo parecia bem encaminhado: recepção entusiástica de Mark Twain, digressão planeada nas costas leste e oeste, convite da Casa Branca, Gorki é acolhido por milhares de pessoas que esperaram longas horas à chuva pela sua chegada ao Novo Mundo. Recém-libertado dos calabouços de São Petersburgo, onde estivera preso por ter participado na rebelião falhada de 1905, muitos americanos encaravam-no, e à sua causa, com indisfarçada simpatia, considerando que era um imperativo histórico de justiça apoiar os revolucionários russos, da mesma forma que os revolucionários franceses de 1789 tinham apoiado os Founding Fathers e a sua luta pela independência. Gorki reciprocou, proclamando que a América era o país mais democrático do planeta. Seguiram-se banquetes de homenagem em clubes selectos de Nova Iorque ou nas residências de socialistas ilustres e endinheirados, entrevistas aos principais jornais da cidade, palestras ovacionadas. De súbito, a bomba. Descobriu-se que a mulher que o acompanhava, uma antiga actriz do teatro de Moscovo, e que dera entrevistas na qualidade de esposa ("Entrei numa das peças do meu marido, mas abandonei os palcos. Agora sou apenas a sua mulher"), não era afinal a legítima, que ficara na Rússia, à solidão e ao frio. "Madame Gorki", para mais, era - ou tinha sido - casada com um general ultraconservador, do círculo íntimo de Nicolau II. Twain mostrou-se ultrajado, a Casa Branca retirou discretamente o convite, cancelaram-se conferências, esfumou-se o plano de visita à Califórnia. Na América puritana, os responsáveis pelos serviços de imigração chegaram a fazer ameaças de expulsão e os Gorki andaram em bolandas em Nova Iorque, sendo sucessivamente despejados de vários hotéis da cidade. É com esse estado de espírito que o jornalista-escritor visita Coney Island, outrora a península dos konijnen ("coelhos", em holandês), agora o vazadouro hedonista das classes trabalhadoras de Nova Iorque. Aos fins-de-semana, milhares de pessoas acotovelavam-se no areal apinhado ou nas filas quilométricas para atracções e divertimentos colectivos de toda a espécie. Foi lá que surgiu a primeira montanha-russa, colossal, patenteada em 1884. Foi lá que inventaram o cachorro-quente, barato e rápido. Foi lá que, graças à recém-descoberta electricidade, se fazia praia até de noite, por turnos. Foi lá que instalaram a Vaca Inexaurível, posto de abastecimento de leite non-stop, máquina em formato de vaca que funcionava 24 horas por dia. Ou um hotel com a forma de elefante, do tamanho de uma catedral, onde numa das patas gigantescas, de 20 metros de diâmetro, existia uma tabacaria e, na outra, um diorama. Nos domingos de Verão, a praia de Coney Island era o lugar de maior densidade demográfica do mundo. À noite, o Luna Park iluminava-se pelo poder de um milhão e 300 mil lâmpadas eléctricas. Na Cidade dos Anões, onde se exibiam seres humanos de baixa estatura, o frenesi do lucro acicatava a promiscuidade e a luxúria: 80% dos recém-nascidos eram ilegítimos. A Babel capitalista, em suma.
Regressado à Europa, é no seu refúgio de Capri que Máximo Gorki escreveu um artigo a que chamou "Tédio", tão-só. Foi o imenso tédio das gentes, a sua indizível melancolia, o que mais o impressionou em Coney Island. Despontava então a civilização dos tempos livres e do ócio remunerado. Junto aos Jerónimos, Eça deparava com um trabalhador de filho ao colo, com a mulher de xale de ramagens, pasmando para a estrada, pasmando para o rio, a gozar pacatamente o seu domingo. Gorki, de seu lado, observava com repugnância as multidões em transe de tristeza, de olhares inexpressivos, que comparou a enxames de moscas pretas. As construções grotescas da "tecnologia do fantástico", como lhes chamou, marcaram-no pela sua "escassez de realidade", patente nas réplicas de Veneza e seus canais, nos pastiches da decadente Pompeia, nos Túneis do Amor, na arquitectura vazia de Dreamland e de outros lugares falsamente oníricos, feitos de papier maché e de miséria. Pairando sobre tudo isso, um tédio constante e morno, quase letal. "O tédio, que brota sob a pressão do indivíduo consigo mesmo, parece converter-se num lento círculo de agonia. Arrasta na sua dança melancólica dezenas de milhares de pessoas e varre-as, formando um monte abúlico tal como o vento varre o lixo das ruas", escreveu Gorki, o "amargo", sempre cáustico e azedo. "A vida é feita para pessoas que trabalham seis dias por semana, pecam no sétimo dia e pagam pelos seus pecados confessando-os e pagando pela confissão", acrescentou. Este desprezo pelas massas exprime bem o dilema do intelectual contemporâneo, que admira o povo em teoria, mas na prática tem por ele uma aversão profunda, arreigadíssima. Máximo Gorki, arauto dos bolcheviques, não se apercebeu de que aquilo que vira em Coney Island era, sem tirar nem pôr, a verdadeira ditadura do proletariado, como bem assinala o arquitecto Rem Koolhaas num livro dedicado a Nova Iorque Delirante. Ou, se quisermos, emergira ali, nos arredores de Manhattan, a rebelião das massas de Ortega y Gasset.
Temos hoje horror ao tédio. A nossa atenção e sentidos são permanentemente convocados, estimulados e titilados por um vendaval ininterrupto de notícias divertidas, vídeos engraçadinhos e outros excitantes palermas. Tudo é programado ao milímetro e ao segundo para impedir o ennui e para eliminar os pensamentos melancólicos do nosso espírito, cada vez mais infantilizado. A principal função do polegar oponível do Sapiens consiste agora em deslizar imagens patetas no ecrã de um smartphone. Nas praias e nos cafés, nos jardins ou nas ruas, tudo agarrado ao telemóvel. A toda a hora, de dia e ou de noite, levamos connosco uma Coney Island de bolso, muito portátil. Com isso evacua-se o tédio, decerto, mas perde-se também o seu enorme valor cultural e civilizacional. Sem falar no "ócio criativo", outrora muito apreciado nas melhores universidades inglesas, eram as tardes lânguidas da puberdade que levavam os adolescentes a ler. A ler horas a fio, sob o incentivo do tédio e da circunstância singela, mas decisiva, de não haver nada para fazer, absolutamente nada. Devoravam-se obras quilométricas, intermináveis mas fundamentais, que hoje amarelecem nas prateleiras, esmagadas pelo pó da ignorância e pela sujidade da desmemória. Para um teenager, entre a gratificação imediata de um like e a lenta e densa trama de Guerra e Paz a escolha é óbvia, irrecusável. Sem tédio, perdendo-se a capacidade de lidar com o tédio, é impossível aprender uma língua morta, estudar com afinco o latim ou o grego antigo, repetir à náusea os exercícios de violino ou harpa, gastar os dias a contemplar as nuvens do céu ou as avezinhas dos bosques. Não é por acaso que a Inglaterra, cinzenta e húmida, sempre foi grande terra de birdwatchers.
Matámos o tédio, muito bem, paz à sua alma. Mas, com essa morte, matámos também o que restava da nossa cultura humanista, baseada no livro e na leitura, na música dos planetas, no espanto da Natureza. Duvidam? Uma em cada cinco das livrarias registadas no Ministério da Cultura já não existe. Das restantes, apenas um terço reúne os requisitos para ser considerada livraria; e 40% dos livros ali expostos acabarão por ser devolvidos às editoras, por falta de compradores. Depois do tédio, as trevas.»
.
25.12.18
Pedro Tamen: «Não Digo do Natal»
Não digo do Natal – digo da nata
do tempo que se coalha com o frio
e nos fica branquíssima e exacta
nas mãos que não sabem de que cio
nasceu esta semente; mas que invade
esses tempos relíquidos e pardos
e faz assim que o coração se agrade
de terrenos de pedras e de cardos
por dezembros cobertos. Só então
é que descobre dias de brancura
esta nova pupila, outra visão,
e as cores da terra são feroz loucura
moídas numa só, e feitas pão
com que a vida resiste, e anda, e dura.
Pedro Tamen, in Antologia Poética
.
24.12.18
Ladainha dos póstumos Natais
Ladainha dos póstumos Natais Há-de vir um Natal e será o primeiro em que se veja à mesa o meu lugar vazio Há-de vir um Natal e será o primeiro em que hão-de me lembrar de modo menos nítido Há-de vir um Natal e será o primeiro em que só uma voz me evoque a sós consigo Há-de vir um Natal e será o primeiro em que não viva já ninguém meu conhecido Há-de vir um Natal e será o primeiro em que nem vivo esteja um verso deste livro Há-de vir um Natal e será o primeiro em que terei de novo o Nada a sós comigo Há-de vir um Natal e será o primeiro em que nem o Natal terá qualquer sentido Há-de vir um Natal e será o primeiro em que o Nada retome a cor do Infinito David Mourão-Ferreira, in «Cancioneiro de Natal»
..
23.12.18
António Gedeão – «Dia de Natal»

Dia de Natal
Hoje é dia de ser bom.
É dia de passar a mão pelo rosto das crianças,
de falar e de ouvir com mavioso tom,
de abraçar toda a gente e de oferecer lembranças.
É dia de pensar nos outros- coitadinhos- nos que padecem,
de lhes darmos coragem para poderem continuar a aceitar a sua
miséria,
de perdoar aos nossos inimigos, mesmo aos que não merecem,
de meditar sobre a nossa existência, tão efémera e tão séria.
Comove tanta fraternidade universal.
É só abrir o rádio e logo um coro de anjos,
como se de anjos fosse,
numa toada doce,
de violas e banjos,
Entoa gravemente um hino ao Criador.
E mal se extinguem os clamores plangentes,
a voz do locutor
anuncia o melhor dos detergentes.
De novo a melopeia inunda a Terra e o Céu
e as vozes crescem num fervor patético.
(Vossa Excelência verificou a hora exacta em que o Menino Jesus
nasceu?
Não seja estúpido! Compre imediatamente um relógio de pulso
antimagnético.)
Torna-se difícil caminhar nas preciosas ruas.
Toda a gente se acotovela, se multiplica em gestos, esfuziante.
Todos participam nas alegrias dos outros como se fossem suas
e fazem adeuses enluvados aos bons amigos que passam mais distante.
Nas lojas, na luxúria das montras e dos escaparates,
com subtis requintes de bom gosto e de engenhosa dinâmica,
cintilam, sob o intenso fluxo de milhares de quilovates,
as belas coisas inúteis de plástico, de metal, de vidro e de
cerâmica.
Os olhos acorrem, num alvoroço liquefeito,
ao chamamento voluptuoso dos brilhos e das cores.
É como se tudo aquilo nos dissesse directamente respeito,
como se o Céu olhasse para nós e nos cobrisse de bênçãos e favores.
A Oratória de Bach embruxa a atmosfera do arruamento.
Adivinha-se uma roupagem diáfana a desembrulhar-se no ar.
E a gente, mesmo sem querer, entra no estabelecimento
e compra- louvado seja o Senhor!- o que nunca tinha pensado
comprar.
Mas a maior felicidade é a da gente pequena.
Naquela véspera santa
a sua comoção é tanta, tanta, tanta,
que nem dorme serena.
Cada menino
abre um olhinho
na noite incerta
para ver se a aurora
já está desperta.
De manhãzinha,
salta da cama,
corre à cozinha
mesmo em pijama.
Ah!!!!!!!!!!
Na branda macieza
da matutina luz
aguarda-o a surpresa
do Menino Jesus.
Jesus
o doce Jesus,
o mesmo que nasceu na manjedoura,
veio pôr no sapatinho
do Pedrinho
uma metralhadora.
Que alegria
reinou naquela casa em todo o santo dia!
O Pedrinho, estrategicamente escondido atrás das portas,
fuzilava tudo com devastadoras rajadas
e obrigava as criadas
a caírem no chão como se fossem mortas:
Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá.
Já está!
E fazia-as erguer para de novo matá-las.
E até mesmo a mamã e o sisudo papá
fingiam
que caíam
crivados de balas.
Dia de Confraternização Universal,
Dia de Amor, de Paz, de Felicidade,
de Sonhos e Venturas.
É dia de Natal.
Paz na Terra aos Homens de Boa Vontade.
Glória a Deus nas Alturas.
António Gedeão
.
Mujica, sempre ele
«Temos muita gente com fome, sem abrigo ou com casas miseráveis, e conseguimos, até certo ponto, ajudar essa gente a se tornar bons consumidores. Mas não conseguimos transformá-los em cidadãos - os processos são lentos demais, é mais fácil resolver de imediato o problema da (falta de) comida, porque é algo que fala de imediato à nossa consciência. Mas não conseguimos cortar a imensa dependência que temos deste mundo atual que se expande cada vez mais.»
De uma entrevista que merece ser lida.
.
O país do giroflé, giroflá
«Há algumas décadas, o grupo português A Banda do Casaco gravou um tema repleto de sarcasmo: “O enterro do tostão”. Foi antes do fim do escudo. É do tempo em que a televisão não era a cores, mas a preto e branco e simbolizava, já então, a descrença com os sonhos nascidos em 1974. Cantava-se: “Ai venham todos, ai venham já, que este jardim está ao deus-dará, ai venham todos, ver como isto é, que este jardim anda ao giroflé”. Estávamos em 1978 e caminhávamos alegremente para a primeira intervenção do FMI em Portugal. Desde então o jardim, exceto nalguns momentos de fotossíntese, nunca deixou de estar ao deus-dará. O enterro do tostão era, na realidade, o dobrar dos sinos por todas as esperanças. Passadas décadas, Portugal não aprendeu nada. Este é um país que dança o giroflé e contenta-se com o giroflá. Portugal é um melancólico ‘Jardim da Celeste’.
Enterrou-se o tostão e, agora, soterram-se as ideias. O maior défice português é o do pensamento. Olhe-se à volta. Os dois melhores exemplos do país do giroflé são essa expressão gloriosa da nação: o eterno bardo Jaime Marta Soares, e o salário mínimo de 600 euros, paradigma da nossa pobreza face à Europa. O modelo português é, há séculos, o dos salários baixos. Alguém o tentou mudar? Pertencemos à Europa? Vivemos como sempre no mundo da ilusão e da sopa dos pobres envergonhada. O maior truque deste Governo foi fazer-nos acreditar que os coelhos magricelas da era da troika se tinham transformado em roliças lebres. Todos se sufocaram com a original notícia: sindicatos da função pública e partidos da oposição ou do apoio envergonhado ao PS. Na prática, o país continua a apertar o cinto. A época anunciada das “vacas gordas” (e voadoras) contaminou toda a gente e funcionou como o nosso Ícaro ternurento. Só que a “vaca voadora” aproximou-se demasiado do Sol e as asas começaram a arder. O jogo do “pega monstro” em que se transformou o trágico acidente do helicóptero do INEM mostra como este país está preso por fios. Os cidadãos têm razão para deixar de confiar no Estado: são demasiadas falhas para serem tapadas por uma peneira. Em vez de discutir seriamente qual a razão estrutural da falha do Estado em sucessivos acontecimentos, a elite política antecipa o Carnaval: está mais interessada em dominar o Conselho Superior do Ministério Público, com Rui Rio e Jorge Lacão a dançarem um tango mortal. Face aos problemas reais, alguns iluminados reagem com a compostura de galinhas desorientadas: correm em todas as direções. Toda a matéria orgânica é corroída pelo tempo. É o que está a acontecer à política nacional. Mas, pior, os seus guardiões não o percebem. Ou fingem que não.
Parece uma telenovela. Os episódios sucedem-se e o enredo não muda. Os deputados, a fazerem provas de admissão ao populismo pimba, decidiram transformar-se em farmácias ambulantes, legislando sobre as vacinas que os portugueses devem inocular, enquanto, em momentos pontualíssimos, se transformam, pelo dom da ubiquidade, em fantasmas no Parlamento. Tancos é já um seriado, vai no “Rambo 10” e quem sabe mais além; a incúria estatal que permite tragédias como a de Borba ou os incêndios periódicos é a norma; a montanha russa das greves que vão moendo a sociedade e que, um dia, a revoltarão, tornaram-se um hábito tóxico; a ferrovia continua a tentativa, sem comboios, de regressarmos ao transporte em carroças (e isso possa ser vendido aos estrangeiros como very tipical); a corrupção floresce como uma necessidade. Alguém discute que modelo de país queremos? Cavaqueamos sobre coisas avulsas. Porque o país é frágil como cristal: faltam comboios, enfermeiros, fiscais de obras, dinheiro para o SNS. Discutem-se locais de portos, mas é-se incapaz de criar um corredor ferroviário a partir de Sines para a Europa, a grande vantagem competitiva nacional no sector.
Em Portugal vive-se, por completo, o espírito “Black Friday”: depois de se ter implementado uma sociedade económica low-cost, instalou-se agora a política low-cost, num clima de cultura low-cost. Não custa entender que esta sociedade de saldos está a destruir a democracia. Transformados em consumidores, os cidadãos sobrevivem, num país de impostos sem fim, enquanto os serviços se degradam. O contrato social é hoje uma ilusão. Entre um défice quase zero, o “sucesso” do turismo e o pagamento da dívida ao FMI (substituída por outra igual, a juros mais baixos), a sociedade portuguesa definha. Tem-se retirado aos cidadãos a capacidade de alargarem o seu conhecimento e a sua capacidade crítica. Esta “nova pobreza” assemelha-se a uma “iliteracia” cada vez mais visível e que nos atira para modelos pré-revolução fordiana. Charles Dickens poderia regressar, porque a sua sociedade vergada à dívida, que descreveu em “Little Dorrit”, está aqui. Com a diferença que agora há telemóveis que só não nos dão a comida à boca. Há umas semanas, Hélia Correia dizia-nos que “os animais estão a acordar” e que “estamos a perder completamente a palavra”. Só os políticos portugueses não entendem que caminham alegremente sobre campo minado. Não é muito diferente do que Guerra Junqueiro dizia em 1890, ano de todos os perigos. Para ele, os partidos de então correspondiam ao estado da nação: “Fazem-me lembrar um homem que, numa feira, vendia vinho e vinagre na mesma pipa. O vinho saía por um lado e o vinagre por outro. A droga era a mesma.” Os políticos portugueses estão exaustos de ideias. E não percebem este novo mundo de fantasmas que se está a organizar: numa época em que os maiores recursos comerciais (ou políticos, porque ambas as áreas estão agora ligadas) são as próprias pessoas, como prova o Facebook, tudo é mercadoria no mundo dos algoritmos. É nesse pântano que se alarga, que as tolices de alguma da nossa classe política são afrodisíacos para quem empunhe a bandeira da alternativa radical. A política, como se sabe, é a suprema arte da ficção. O teatro, no seu limite. Por isso, por trás dos Trumps e dos Salvinis, está aquilo que Steve Bannon já entendeu: estamos no meio de uma guerra, pela hegemonia cultural. Bannon segue, por vias transversais, as teses de Antonio Gramsci. Sabe que a política tem que ver com a definição de uma identidade. E com a arte de criar emoções que soem autênticas.
Nesse aspeto, Portugal é uma flor à beira do precipício. Acorrentado, como desde há séculos, a uma dívida (pública e privada) que nunca desaparece, incapaz de acumular capital para investir, tendo desaparecido grande parte das grandes empresas de capital nacional com capacidade de internacionalização, tendo já privatizado quase tudo o que era público, com um sector financeiro em mãos externas, o país está a caminhar para uma fragmentação política (foi à esquerda e em 2019 será à direita). Quem lograr apresentar uma estética alternativa poderá vir a reinar neste terreno de cinzas e desesperos. A política será sempre uma luta entre o conflito e o pacto, entre a razão e a vingança. Ao tornar-se, como em Portugal, um show de duvidosa utilidade, está aberto o caminho para os espectadores votarem no personagem mais vistoso. E é assim que desaparecem as democracias.»
.
22.12.18
Coletes Amarelos, ainda
Um dos detido no Marquês é guarda prisional, um dos organizadores do protesto é do PS, isto tudo é muito cansativo e creio que vou ali ao Youtube ouvir o Jingle Bells.
.
O festival de irresponsabilidade
José Pacheco Pereira no Público:
«A manifestação “Vamos parar Portugal” é o primeiro sinal exterior de um populismo larvar que medra pelas redes sociais fora e que era só uma questão de tempo até querer sair delas para a rua. Saiu agora e mostrou a enorme diferença entre os apoios mais ou menos incendiários “dentro” e a escassez de apoios “fora”.
O que se passou com a manifestação dos chamados “coletes amarelos” portugueses é disso um verdadeiro exemplo. Deixemos a parte de leão que têm as malfeitorias dos deputados, dos governantes, dos políticos activos, desde o pequeno truque para ganhar mais uns tostões no fim do mês até à corrupção da pesada. É grave, mas o seu papel não é único, nem tão decisivo como parece.
Há também uma indústria da denúncia da corrupção, verdadeira ou falsa, exagerada quase sempre, que vai desde políticos propriamente ditos que fazem da “luta contra a corrupção” um instrumento de existência e de vantagem eleitoral, muitas vezes com enorme duplicidade entre os “nossos” que são desculpados e os “deles” que são atacados por sistema, até à imprensa e televisão tablóide que é hoje predominante. Os mecanismos de cobertura dos eventos são cada vez menos jornalísticos, “notícias” inverificadas, obsessão pela “culpa”, muitas vezes antes de se saber se ela existe, menosprezo pela descrição dos eventos a favor do comentário conspirativo, tudo isso acentua o discurso populista.
Voltemos ao “Vamos parar Portugal”. Esta manifestação teve excepcionais condições de propaganda para sair de fora do casulo das redes sociais. A ideia de que estas manifestações vivem essencialmente dos apelos nas redes sociais é, para não dizer mais, enganadora. E é claramente um dos mitos actuais, subsidiário do deslumbramento tecnológico, que se repete sem escrutínio desde a “Primavera árabe”, como atestam todos os estudos, mostrando que as redes sociais estão longe de ter o papel que se lhes atribui. Não adianta, é um mito urbano, logo tem pernas para andar.
Esse mito oculta que as manifestações com algum sucesso que nasceram nas redes sociais só ganham dimensão quando passam para as páginas dos jornais e os noticiários da televisão, ou seja, para os media convencionais. Esta é a segunda manifestação em Portugal que tudo deve ao modo como a comunicação social resolveu tratar este tipo de protestos. A primeira foi a manifestação do “Que se lixe a troika”, que beneficiou de uma grande simpatia dos jornalistas (correlativa da antipatia no tratamento das manifestações sindicais), e a segunda foi esta, que suscitou sentimentos contraditórios entre o desejo de que houvesse pancadaria, porque isso dá boa televisão, anima a política e “chateia o Costa”, até à exploração do medo.
Aliás, é interessante ver como foi evoluindo o contínuo media-redes sociais e alguns sectores políticos da direita que não disfarçavam a expectativa da contestação para contrariar a “ditadura” de Costa e da “geringonça”, até à extrema-direita (o PNR teve uma presença importante entre os manifestantes) e a fina alt-right do Observador, que passou do alarmismo para o “fiasco”. Mas faça-se justiça ao Observador, que não esteve sozinho: a cobertura mediática anterior à manifestação foi de muito má qualidade, exagerada, alarmista, desproporcionada e mostrando muito pouco conhecimento sobre o que se passava, sugerindo muitas vezes que da passividade sonâmbula e hipnótica da “geringonça” se iria passar para um país a ferro e fogo.
Esta atitude foi também a do Presidente da República e do Governo, ambos alimentando um alarmismo exagerado, com gestos que seriam completamente contraproducentes, caso existisse mesmo o perigo de as coisas descambarem. O que eles fizeram com passeios “apaziguadores” com camionistas, que pelos vistos não tiveram nenhuma presença destacada no “Vamos parar Portugal”, ou com avisos de que se estava num “alerta vermelho”, foi a melhor propaganda que se poderia fazer para um movimento que nunca deixou de ser débil. O “Vamos parar Portugal” não falhou por falta de propaganda, falhou por falta de pessoas.
O alarmismo irresponsável das autoridades mostra também que não há “inteligência” sobre estes grupos, ou que, se existe, é de muito má qualidade – ou seja, ou não sabiam de nada do que se ia passar, ou então resolveram fazer uma actuação exemplar com antecedência para dissuadir o que se possa vir a passar um dia futuro. Seja como for, é brincar com o fogo.
Eu ouvi um dos “organizadores” dizer que iriam para a rua um milhão de pessoas, o que nos dá a medida da ilusão. Mas seria uma ilusão ainda maior ignorar que há muita gente zangada, há cada vez mais gente que já não pensa em termos democráticos, mas em termos de “nós” (o povo) e “eles” (os políticos) – a essência do populismo, para simplificar – e que o combustível para a zanga e para as ideias que nascem da zanga é cada vez mais abundante. Como é igualmente abundante a completa irresponsabilidade com que se alimenta essa fogueira escondida, como se viu a pretexto destes protestos que nunca pararam Portugal, mas parecem ter parado a cabeça a muita gente.»
,
21.12.18
E se hoje é dia de amarelos, venha este
Ainda por cima no dia em que Carlos do Carmo faz 79 anos.
.
Público 2019
No Editorial de hoje, são anunciadas algumas novidades para o ano que em breve começa, entre as quais a seguinte:
«Queremos diversificar a oferta de opinião relevante com novos colunistas. António Barreto, Luis Aguiar-Conraria, Nuno Severiano Teixeira, Paula Teixeira da Cruz e Vasco Pulido Valente passarão a escrever no Público a partir de Janeiro próximo.»
Diversificar? Com estes nomes? Em bom português: é preciso ter lata!
.
A derrota dos coletes
Era previsível que uma revolta inorgância de direita, que pedia tudo e mais o céu, neste jardim à beira-mar descansado, não teria grande sucesso. Mas confesso que não esperava tão magérrimo número de participantes. E isso apesar da enorme ajuda dos órgãos de comunicação social, com especial relevo para as TVs (e entre estas para a SIC N) que, sobretudo deste ontem e durante toda a manhã de hoje (e ainda agora, quase às 14h) , não se pouparam a esforços para dar imagem e megafone pelo país fora, a uns tantos gato pingados, que lhes enchessem o tempo de antena e dessem audiências. E não só, e não só...
Claro que era fatal como o destino que os ditos OCS viessem justificar a importância que deram ao fenómeno. Mas o fim deste texto é muito bom:
«Mas lá está, o mundo está perigoso e estranho. E uma coisa estes movimentos populistas - sem serem populares, até - já nos tiraram: o recuo e o bom senso. Resta-nos o cinismo e o civismo. E a lição de bom senso que nos deram os portugueses, hoje».
.
A Amazon é o nosso destino
«“Anything. Anywhere. Anytime”: antes era uma prerrogativa de Deus, agora é a divisa da Amazon, segundo o mandamento de Jeff Bezos, criador e mestre de um universo empresarial que conquistou o planeta e já tem um projecto – chamado Blue Origin - de colonização espacial, pensado para o momento em que terá consumado a conquista de cada canto do nosso mundo, quando for preciso ir para além do nosso planeta para não estagnar. A estagnação é o que ele mais odeia. Outra divisa de Bezos, o homem mais rico do mundo, é que “cada dia é o primeiro”, isto é, tudo está sempre no início, a começar, porque se admitisse a lógica da inércia do segundo dia, aí iniciava-se a decadência. Nos últimos tempos, o lado negro da empresa - a condição de escravatura, robotização, precariedade e baixos salários a que submete os seus empregados - tem sido notícia, graças a testemunhos pessoais e reportagens. Ficámos então a saber que cada um dos gestos dos empregados é vigiado e contabilizado, a velocidade com que eles se deslocam nos armazéns é medida. Sobre nós, clientes, a empresa também sabe tudo sobre os nossos usos e gostos. Se comprámos o livro X, então também somos potenciais compradores do livro k, y e z. O algoritmo é o grande feiticeiro do nosso tempo.
Um excelente documentário difundido há pouco mais de uma semana no canal de televisão franco-alemão ARTE, realizado por David Carr-Brown, A Irresistível Ascensão da Amazon, mostra com eloquência e abundância de provas como funciona a Amazon, a sua lógica de crescimento permanente em tal grau que lhe é permitido aspirar a ser a única empresa do planeta. A obesidade e a proliferação cancerosa são a nossa condição histórica, mas neste caso estamos para além dela. Para descrevê-la, é preciso recorrer à linguagem da metafísica, falar no “destino” e na “destinação” da Amazon, mais do que da sua história. E é num sentido quase teológico que podemos ler a palavra “ascensão” que surge no título deste documentário.
Os centros de tratamento das encomendas actualmente existentes têm, no total, uma área superior a 500 vezes o Cental Park. E, cada ano que passa, são construídas novas fortalezas, plataformas de distribuição, que perfazem o tamanho de um Central Park. O seu modelo impôs-se em todo o mundo (todas as cadeias logísticas tentam hoje imitá-lo) e, impondo as suas regras sobre o comércio e o emprego, transforma profundamente a sociedade de maneira incontrolável. Um dos momentos fundamentais do documentário de Carr-Brown é a explicação do modo como a Amazon reinveste os seus lucros no crescimento da empresa: é uma empresa de extracção que aspira o dinheiro para o interior, ciclicamente, de maneira a expandir-se em permanência. Não faz circular o dinheiro para fora do seu círculo. A sua lógica de funcionamento é totalitária. Onde quer que penetra, ela explora os recursos existentes (a totalidade do mercado) e tem como objectivo tornar-se o único fornecedor, assumir o poder do monopólio. E quais são as consequências deste monopólio? No mercado do livro, para evocarmos o exemplo de um sector cheio de subtilezas e fragilidades, uma fatia enormíssima do mercado mundial está sob o seu controlo. O que significa que os próprios editores vão perdendo autonomia. Eles têm que editar para a Amazon distribuir e “satisfazer os desejos dos clientes no mais curto espaço de tempo“, como reza outra divisa da empresa. Colocar-se ao dispor da vontade do cliente é o princípio que serviu para definir a “indústria cultural” e os seus efeitos de homogeneização. Por todo o lado, as livrarias vão fechando e as que restam estão ameaçadas. Ou vão sendo colonizadas pela lógica “amazónica”, que vai retirando autonomia aos leitores e conduzindo-os por caminhos que não são eles a escolher livremente. A pouco e pouco, há espécies bibliográficas que quase nem aparecem à luz do dia ou entram em vias de extinção. Percebemos que a ascensão da Amazon é irresistível quando, sabendo aquilo que ela representa e o destino funesto que ela nos promete, não encontramos meios nem força para prescindir dela. É um monstro que satisfaz os nossos desejos, onde quer que seja, em qualquer lugar. Até que o desejo se extinga e triunfe a “miséria simbólica” que ela cria.»
.
Subscrever:
Mensagens (Atom)